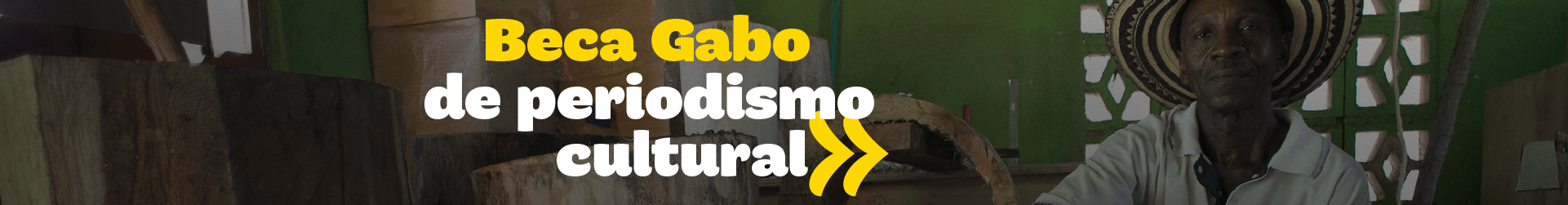Uma jovem se aproxima pelo pórtico do quintal, onde roupas penduradas secam ao sol. Sua camisa impecavelmente branca e a cruz vermelha na mala impõem uma condenação: a doença habita aquela casa. Está ali para aplicar vacinas, explica à mulher recaída numa cadeira. Não há resposta, apenas um resmungar inaudível, descrente. À sua frente, uma idosa de corpo esquálido e cabelos brancos se entretêm com os fiapos de seu vestido maltrapilho. Sem esboçar contrariedade ou compaixão, a enfermeira puxa uma cadeira, rabisca anotações e oferece as ampolas como se vendesse enciclopédias.
“Antes, se bebiam plantas e bastava. Hoje não se faz isso, correm pra comprar Melhoral”, diz Rita Barragrande, enquanto massageia o braço marcado pela agulha. A dona da casa aceitou a medicação praguejando as soluções fáceis para males profundos. O corpo arqueado, as rugas no rosto e a amargura na voz indicam que a vida lhe impôs mais tormentos do que poderiam sustentar seus 56 anos. Ela murmura dores no joelho, tremores pelo corpo, falta de ar e um “aperto no peito”, enquanto busca na memória desconexa as receitas de chás para a gripe.
Não importa, diz. Já não consegue preparar as infusões com folhas da mata, como há muitas gerações se faz na secular comunidade de San Basilio de Palenque, a 50 km de Cartagena das Índias. A medicina, a língua, os rituais tradicionais são traços da cultura africana que renderam ao povoado, semelhante a um quilombo, o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Há 200 anos, aquele foi o primeiro território negro reconhecido como livre e autônomo frente um governo colonial em toda a América.
“Nesta lua não se pode tomar essas vacinas, meu pai diria para esperar a cheia.” Rita ajeita o corpo murcho na cadeira como se quisesse recobrar forças para o embate filosófico entre a cura natural e as vacinas rotuladas em códigos de barra. Estamos na lua minguante, o fim de um ciclo que draga toda a energia vital na Terra. “Pode dar convulsão”, explica.
Um riso sombrio se sobrepõe à fala. Sentada em uma cadeira de rodas, a velha descabelada e com colo à mostra emerge de seu devaneio. Parece notar, de repente, que há mais alguém dividindo o seu território, real ou imaginário. Ela sofreu uma trombose e teve complicações, explica Rita, a resguardar sua autoridade naquele quintal ermo nas colinas da Colômbia, também assombrado pelo mal-estar civilizatório.
“Em tudo tenho que ser perfeita, se não… hoje todo dia muda tudo, isso me põe estressada demais”, desabafa, como um lamento íntimo diante de uma realidade que lhe escapa. Há sete anos não sai de casa. A última vez foi a um médico, em Cartagena, a contragosto. “Disse que é depressão, eu não acredito. Estou há dez anos neste afã. Tem dias que não consigo me levantar da cama, me falta coragem. Sei que tenho algo de verdade”, diz, como se não fosse real a névoa que embaça seus olhos e preenche aquele lar com uma densa melancolia.
O sofrimento na mente, diz Maria Rita Kehl em seu livro O tempo e o cão, nasce na destruição de uma rede de representações estáveis que protegem as identidades na vida em sociedade. É um choque brutal, a perda de lugar e referências, que traz esse precipício para dentro de nós. Assume também caráter de sintoma social. O embate com o Outro, na sociedade do consumo acelerado, se naturaliza em coerções internas. Daí emerge o desânimo, o isolamento, o deserto tedioso e caótico que embaralha os sentidos e emudece.
Aquela é uma casa oca, sem mobílias. Ficou vazia depois que seus filhos se mudaram, disse Rita. Buscavam fartura, mas hoje fazem planos de regressar à roça para cultivar alimentos que não encontram mais na Venezuela. A memória lhe reaviva as dores e faz contrair o rosto. “Esta noite sonhei com um touro, enorme, preto. Ele corria pela casa atrás de mim… No sonho se faz tudo, corro como antes. Daí, acordo”, contou, encolhendo os ombros.
Por um segundo, desviei o olhar e vi a besta avançar sobre mim como se farejasse a doença. Suas largas passadas afundavam o piso, o rabo remetia longe o calendário pendurado na parede e o corpo pesado arqueava para os lados, destruindo tudo que estreitasse sua passagem. Seu focinho bufava vigorosamente, a boca espumava. Estava sedenta. Rita indicou seu esconderijo embaixo de um balcão, mas encarei a fera. Queria domá-la pelos cornos.
A velha caduca ria, sinistra. Rita me olhava à espera de mais perguntas, ciosa pelo interesse em suas lamúrias. A névoa daquele quintal hermético me recobriu, turvou a realidade. Naquele instante, uma desolação descabida naquele lugar reascendeu subitamente em mim.
Jamais houve um diagnóstico. A negação à “patologização generalizada da vida íntima”, como descreve Maria Rita Kehl, foi o que me afastou dos médicos – tal qual o desdém de Rita Barragrande. “As dores da alma não se tratam com pílulas de farmácia”, disse-me aquela mulher forte em luta perversa contra seus fantasmas. Eu, com os meus, a vi enquanto vagava em busca de uma história genuína – reencontrei a minha.
A tristeza seca dos últimos anos é só uma das marcas da doença, que se entranha pelas veias, pensamentos e sentidos sem pedir licença. A melancolia foi como um longo eclipse, uma vigília turbulenta sobre o que restaria de mim após o diagnóstico, em 2008, de HIV. Sobre quais outras marcas moldariam os dez anos que, naquele instante, julguei ter como futuro.
Sem dividir aquele peso, me despedi da casa dos meus pais. Tinha 21 anos e um sonho vívido. Parado na porta do quarto, vi sob a cama de casal o edredom branco de listas azuis, tamanho solteiro. Na escrivaninha, poucos livros e cadernos em branco. Na parede, um pôster de Pierre Verger. Preservado em pequenos detalhes, estava ali quem eu era então, antes da jornada em busca do que existiria além. Longe, em Paris, senti-me aprisionado em um quarto estreito de paredes brancas, chorei ressentimentos e, uma única vez, o temor da morte.
Era como se o relógio se acelerasse. Uma contagem regressiva que impunha a urgência de gozar indistintamente. Vivi em fuga para o imediato, sem vínculos ou sequer satisfação. Era desejo, e isso se retroalimentava com dissimulações torpes, intensidades fingidas. Cedi ao imperativo do prazer, mesmo por simulacros de gozo, apelos hedonistas a entorpecer sem jamais saciar uma carência imensurável. Cedi ao Outro, fiz-me seu objeto, maculando a ingênua ansiedade de ser aceito, fazer parte, ter um lugar.
Vi a mim como um vírus, primitivo, incapaz de construir algo próprio, apenas apropriar-se do alheio. Da família, não honrava o esforço, tanta expectativa e amor. Dos amigos, recusava conversas, abraços, partilhas. Dos amores, o próprio sentimento, mesmo de quem oferecia acolhimento e abrigo. Nutri ilusões, ergui barreiras, e expus a riscos inconsequentes. Também os sonhos pereceram com o implacável autojulgamento. Poderia me destinar a algo mais, sabia. Mas optei, consciente ou não, por vagar desviando das calçadas e mirando nos carros. Cultivei a certeza de que tudo em mim era desperdício.
O HIV adiciona perversidade a uma vida já marcada pelas dores da diáspora negra. Como fortalecer a autoconfiança e subverter as opressões, o confinamento intangível em uma normatividade racista e hipócrita? Sucumbi. A aversão aos rótulos, próprio da geração, fermentou a frivolidade autodestrutiva. Experimentei outros corpos e rostos e, por fim, não reconhecia nenhum espelho – todos refletiam uma densa sombra em minha aura, violentada na mais profunda dimensão de identidade e pertencimento.
Lembro quando olhei pela primeira vez as pílulas do coquetel. Fiz uma oração, descartei dúvidas e me propus, ali, a tomá-las como à fonte da vida. Julguei que bastaria. Não entendia ainda quão daninho seria aquele vírus a corroer não o corpo, mas toda a alma hospedeira. As drogas pesadas, distribuídas como Melhoral em farmácias públicas, podem inocular sua reprodução. Mas aquela mínima partícula é viva, e como tal, teimosa. Mesmo em solo bombardeado, se enraíza até tomar para si o sentido de toda a existência.
Nada pode ser mais punitivo. No ensaio Aids e suas metáforas, Susan Sontag reflete como o vírus se estigmatizou como símbolo do mal. Não por expor a voracidade da morte, mas pelo julgamento moral aos infectados. A doença é a condenação de um caráter degenerado. Não se trata de anomalia aleatória, como o câncer. Somos culpados por um dito vício ou comportamento sexual delinquente. Merecemos o castigo, a vergonha pública. Carregaremos indefinidamente a marca, a peste, em grupos riscados da sociedade por expor cidadãos honrados ao perigo contagioso do livre arbítrio.
Na beira de precipícios, agarrei-me à memória. O garoto de olhos fechados e riso largo no rosto pintado de palhaço, o pôster de Pierre Verger, é um souvenir em que revisito a alegria tenra da juventude. Ao seu lado, em nova moldura, está uma menina de cabelos crespos que levita ao ouvir pássaros numa via comprimida por arranha-céus. Todos os dias, encontro nela coragem para despertar. Sou os dois fragmentos, entre outros. Mas persiste a aflição de não reconhecer no espelho os cabelos brancos, o corpo magro. Talvez jamais volte a me reconhecer – e não sei se deveria querer.
A melancolia, esse mergulho no abismo íntimo, nos trai e traga em apenas um segundo. De volta ao Palenque, corri em busca de abrigo. Joguei uma água no rosto enquanto olhava aquele reflexo vagamente familiar no banheiro. Ao meu lado, um senhor me fitou por alguns segundos, intrigado, antes de dizer algo que de imediato aplacou meu peito: “Aproveite bem a vida enquanto pode”.
Afonso Cárceres, de 77 anos, logo emendou: “Mas cuidado com os joelhos”. Tinha uma fala cadenciada como o passo, a aliviar ora um ora outro joelho. Tem o rosto cavado, rala barba branca e corpo esguio, com os músculos retesados de quem um dia dependeu deles para sobreviver. As mãos são grossas e rudes, mas já não têm força. Veste calça, camisa e chapéu brancos, com uma sandália de couro a lhe assentar no chão o leve caminhar.
Acompanhei-o até sua casa, uma caminhada vagarosa atravessando toda a comunidade, entre cumprimentos aos mais velhos na língua esquecida e saudações respeitosas dos mais novos. Sua família é uma das matrizes do povoado. Seus netos e bisnetos brincam pelas ruas, batucando em tambores cantos de exaltação ao que chamam ‘África’, uma memória viva, mais do que uma demarcação geográfica ou conceitual. Nos Montes de Maria, o palenque é um enclave da tradição oral, formas de organização e, sobretudo, a filosofia ancestral.
“A essência é a nossa força”, responde o ancião, quando pergunto o que lhe motiva a atravessar a cidade, três vezes na semana, para transmitir aos jovens saberes arcaicos. “Se não os ensinamos, morrem as receitas, a língua. É como uma semente que plantamos para quando não estivermos aqui”, argumenta. Suas metáforas, sempre com tom de mistério, alimentam a fama de ‘griô’, mensageiro da cosmovisão africana. Em frente à sua casa, senta-se à sombra de uma vasta amendoeira: “daqui observo melhor o tempo”.
Seu primeiro trabalho foi como jardineiro. Na década de 50, cuidava das plantas de uma família fina e estudava à noite: “se não fizesse o dever, não tinha comida”. Trabalhou em fazendas da Venezuela, o que lhe rendeu uma propriedade onde cultiva as ervas que aliviam as dores. Em cada um dos vinte anos trabalhando fora, visitou “nem que por um dia” a mulher com quem vive. Tiveram sete filhos, um morreu e dois foram à faculdade. Pararam de contar os netos. “Só nos separa a morte”, declara-se.
O sábio fala do fim como algo concreto, embora distante. O tempo, para ele, é patrimônio da ordem do sagrado. Para mim, era o carrasco a acelerar a validade que supunha demarcada pelo tinhoso. Quis partir, ele pediu que deixasse uma retribuição àqueles minutos partilhados. Em minha pobreza ocidental, pensei em dinheiro. Afonso aceitou, mas seus olhos miraram a caixa de medicamentos. “Médico ou remédio nenhum pode curar uma pessoa que está na hora dela morrer”, disse, com uma breve pausa a me fitar. “Só se pode curar a alma.”
Senti uma ânsia de choro. Não entendia, ainda, aquele encontro à sombra do tempo. Afonso ainda quis me falar algo. Disse que contaria uma receita jamais revelada, um segredo que o ajudara a vencer perigos nas matas, exército e guerrilha. “É um bálsamo que fortalece o corpo, acalma a mente e alimenta o espírito”, explicou. Uma oração. Um esconjuro contra o “veneno que me quer atropelar” feito à virgem, ao espírito santo, às bruxas, leões e panteras.